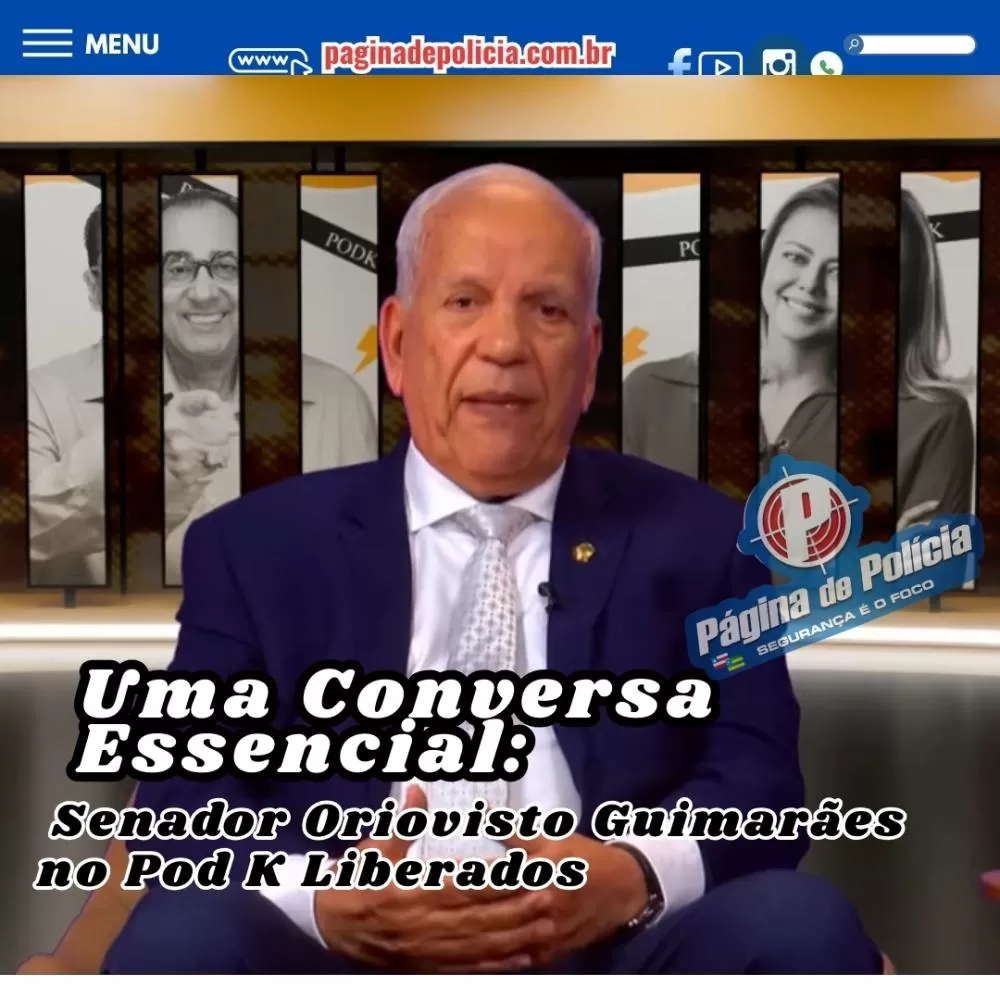Na manhã de 29 de março de 1972, o criminalista Nilo Batista finalizou um memorial que apresentaria à tarde à 3ª Auditoria do Exército da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (RJ), em um processo de crimes políticos. Desde o golpe de 1º de abril de 1964 — que completa 60 anos nesta segunda-feira —, o Brasil vivia em uma ditadura e perseguia opositores. Porém, em vez do alívio que costuma acometer os advogados quando terminam uma petição, ele estava preocupado — com a eticidade da linha defensiva que adotara e com o desfecho do caso.
Seu cliente, José Roberto Gonçalves de Rezende, era acusado de participar do sequestro do embaixador da Alemanha, Ehrenfried von Holleben, ação levada a cabo por integrantes da Ação Libertadora Nacional (ALN) e da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), em 11 de junho de 1970, no Rio de Janeiro. Como o agente da Polícia Federal Irlando de Souza Régis, um dos três seguranças do alemão, morreu baleado na ação, o Ministério Público Militar havia pedido a aplicação da pena de morte para Rezende e seus companheiros. Era a punição máxima prevista para o crime de atentado pessoal ou terrorismo, com resultado morte, previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei de Segurança Nacional (Decreto-lei 898/1969) — a mínima era de prisão perpétua.
Batista estava trabalhando na petição havia uma semana. Demorou porque, diante da possibilidade de Rezende ser condenado à morte, o advogado optou por uma linha de defesa rejeitada por seu cliente. Antes de tomar essa decisão, ele consultou todos os livros de ética advocatícia que tinha. E concluiu que era legítimo discordar do seu assistido, se considerasse que era o melhor caminho para ele.
Rezende insistia que tinha agido por motivações políticas. Ele confessou a participação no sequestro e narrou ao juiz as diversas formas de tortura a que foi submetido — pau-de-arara, choques elétricos, privação de sono, espancamentos. Instado a citar os outros participantes da ação, o militante mencionou apenas os nomes dos que haviam sido mortos pela ditadura. Rezende era um “osso duro de roer”, segundo Batista.
No entanto, o advogado buscou apelar à sensibilidade dos julgadores. Ele tinha provas de que Rezende estava, até o fim de 1969, em Belo Horizonte, trabalhando em um cartório, “assíduo ao serviço e zeloso no cumprimento de seus deveres”, como assegurava seu chefe, participando de comissões examinadoras no Detran e dirigindo um táxi nas horas vagas. Além disso, estudava Direito e era um pai amoroso e dedicado, sem qualquer militância política aparente. A separação traumática de sua primeira mulher, mencionada no requerimento de trancamento de matrícula da faculdade (pedida com o argumento de que estava com “sérios problemas de ordem familiar, que infelizmente ainda perduram”) justificava sua mudança de rumos e ingresso na VPR.
“O horizonte da estruturação argumentativa advocatícia não pode deixar de compreender a sensibilidade do juiz. Ocorreu-me utilizar o breve período de seis meses (entre a demonstração de uma vida prosaica, em Belo Horizonte, e a ação revolucionária, no Rio de Janeiro) para sugerir que aquela grave infelicidade pessoal teria influenciado a opção de ação política de José Roberto. Os condimentos estavam todos presentes: de Amor de Perdição às letras dos boleros, da vulgarização de paradigmas etiológicos provenientes de um certo lixo criminológico norte-americano – utilizado politicamente para reduzir a mero desajuste o inconformismo da juventude dos anos sessenta com o legado que a ameaçava – à dualidade moral entre a capital provinciana e os demônios da megalópolis, tudo me permitiria acessar uma certa veia na sensibilidade dos juízes, que conduziria a uma atenuação da pena, descartando a pena capital. Sim, ele participara do seqüestro, porém vejam o que ocorrera pouco antes…”, conta Nilo Batista no artigo “Mentiras sinceras”, incluído no livro Ousar lutar: memórias da guerrilha que vivi (Viramundo), de Rezende.
Ao ser informado da linha argumentativa adotada por Batista, Rezende ficou indignado. “Ele achava que a opção revolucionária dele ficava diminuída. E eu, que tinha que defender a vida dele, não queria abrir mão disso”, afirmou o advogado à revista eletrônica Consultor Jurídico.
Nas discussões, Batista dizia: “Zé Roberto, não estou pronto para te acompanhar em uma madrugada para ser morto”. O militante rebatia: “Você não pode se meter no meu destino”. E o criminalista retrucava: “E você não pode se meter no meu argumento”.
O advogado incluiu no memorial a discordância do cliente, mencionando que estava “contrariando pedido de seu constituinte até certo ponto”. Não houve condenação à morte, e sim à prisão perpétua. Rezende conta em seu livro de memórias que ficou aliviado por receber tal punição, pois confiava que não teria que a cumprir integralmente.
“Nunca dormi tão bem quanto na noite em que recebi a pena de prisão perpétua. No fundo acho que tinha medo da pena de morte, então foi até um alívio. Naquele clima de terror que a gente vivia, tudo era possível. E eu tinha uma grande certeza: não ficaria na cadeia mais do que dez ou 11 anos. Do jeito que o mundo caminhava, as ditaduras tinham vida curta. Então sairia não por uma decisão judicial, mas por um processo político. E assim aconteceu”.
O Superior Tribunal Militar, em 13 de maio de 1977, substituiu a pena dele para 30 anos de reclusão, por entender que, em sequestros, só deve ser responsabilizado pela morte que ocorrer quem, sem qualquer ajuda dos outros, desfere o tiro (Apelação 39.544) — o responsável foi o militante Eduardo Leite, torturado até a morte pela equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury.
Depois do julgamento, um ministro da corte disse a Batista: “Esse rapaz queria se matar”. “Acenei a cabeça, concordando, envergonhado e feliz. Nada mais falso. José Roberto queria se viver, e queria que todos pudessem viver-se. Mas não era outra coisa o que eu quisera”, narra o advogado no artigo.

Pena de morte
Editado em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional 5 foi o responsável por sepultar de vez o Estado de Direito no Brasil e inaugurar o período mais duro da ditadura militar.
Foi por meio do AI-5 que se institucionalizou a censura, o presidente da República ganhou poderes para cassar mandatos de parlamentares, foram suspensos direitos políticos e, talvez sua faceta mais sensível, foi proibida a concessão de Habeas Corpus a acusados de crime contra a segurança nacional, transferindo à Justiça Militar a competência para julgar crimes políticos.
Com o endurecimento do regime, diversas organizações de esquerda concluíram que a única saída era promover a luta armada. Uma das estratégias era sequestrar diplomatas de outros países e condicionar a libertação à soltura de presos políticos. A primeira iniciativa do tipo foi a captura do embaixador dos EUA no Brasil, Charles Elbrick. A ação foi conduzida pela Ação Libertadora Nacional (ALN) e pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) em 4 de setembro de 1969, no Rio de Janeiro.
A resposta da Junta Militar — que governava o país havia seis dias, desde que o presidente Costa e Silva foi afastado após sofrer uma trombose cerebral — veio um dia depois. O AI-13 instituiu a pena de banimento do território nacional para o brasileiro que se tornasse inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional.
Já o AI-14 reinstituiu a pena de morte e de prisão perpétua. A norma reformou o artigo 150, parágrafo 11, da Constituição de 1967, que passou a ter a seguinte redação: “Não haverá pena de morte, de prisão perpétua, de banimento, ou confisco, salvo nos casos de guerra externa psicológica adversa, ou revolucionária ou subversiva nos termos que a lei determinar. Esta disporá também, sobre o perdimento de bens por danos causados ao Erário, ou no caso de enriquecimento ilícito no exercício de cargo, função ou emprego na Administração Pública, Direta ou Indireta”.
No preâmbulo da norma, a ditadura alegou que “atos de guerra psicológica adversa e de guerra revolucionária ou subversiva, que atualmente perturbam a vida do país e o mantém em clima de intranquilidade e agitação, devem merecer mais severa repressão”.
Embora a tradição jurídica brasileira seja contrária à pena de morte ou à prisão perpétua, sustentaram os militares, existe a possibilidade da aplicação dessas penalidades em caso de guerra externa.
Para a Junta Militar, como os atos de guerra psicológica adversa e de guerra revolucionária ou subversiva atingiam, mais profundamente, a segurança nacional — que deveria “ser preservada para o bem-estar do povo e desenvolvimento pacífico das atividades do País” —, era necessário reinstituir as penas de morte e de prisão perpétua.
A pena de morte em tempos de paz no Brasil havia sido abolida em 1890, com o Código Criminal da República. A última execução ocorrera em 1876. A vítima foi o escravizado Francisco, condenado por matar seus senhores em Alagoas. A Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, inciso XLVII, “a”, proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada.
Lei de Segurança Nacional
Outorgada no fim de setembro de 1969, a nova Lei de Segurança Nacional (Decreto-Lei 898/1969) regulamentou a pena de morte. Dos 40 delitos tipificados pela norma, 15 previam a pena de morte — ou como alternativa à prisão perpétua ou como penalidade única
Os seguintes crimes poderiam ser punidos com morte:
entrar em entendimento ou negociação com governo estrangeiro ou seus agentes, e atos de hostilidade sejam desencadeados contra o Brasil;
tentar submeter a soberania nacional a país estrangeiro, gerando morte;
aliciar indivíduos de outra nação para que invadam o território brasileiro, havendo invasão;
comprometer a segurança nacional, sabotando instalações militares ou meios de comunicação e vias de transporte, estaleiros, portos e aeroportos, fábricas, depósitos, gerando morte;
exercer violência de qualquer natureza, contra chefe de governo estrangeiro, quando em visita ao Brasil ou de passagem pelo território brasileiro, gerando lesão corporal ou morte;
tentar subverter a ordem ou estrutura político-social vigente no Brasil, com o fim de estabelecer ditadura de classe, de partido político, de grupo ou indivíduo, gerando morte;
praticar atos destinados a provocar guerra revolucionária ou subversiva, se deles decorrer guerra;
assaltar ou depredar banco, gerando morte; saquear, sequestrar ou praticar atentado pessoal, ato de massacre, sabotagem ou terrorismo, gerando morte;
impedir ou dificultar o funcionamento de serviços essenciais, gerando morte;
exercer violência ou matar, por motivo de facciosismo ou inconformismo político-social, quem exerça autoridade ou estrangeiro que se encontrar no Brasil, a convite do governo, a serviço de seu país ou em missão de estudo;
exercer violência, por motivo de facciosismo ou inconformismo político-social, contra quem exerça autoridade, gerando morte;
incitar a guerra ou à subversão da ordem político-social, a desobediência coletiva às leis, a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e as classes sociais ou as instituições civis ou a luta pela violência entre as classes sociais, gerando morte;
e perturbar, mediante o emprego de vias de fato, ameaças ou tumultos, sessões legislativas, judiciárias ou conferências internacionais no Brasil, gerando morte.
Havia um rito excepcional de julgamento para crimes punidos com prisão perpétua e pena de morte. Os julgadores seriam indicados pelos ministros das Forças Armadas para formar um Conselho Especial de Justiça responsável pelo julgamento do caso. A pena de morte somente seria executada 30 dias após haver sido comunicada ao presidente da República, se ele não a comutasse em prisão perpétua. A execução ocorreria por fuzilamento.
As penas de morte e perpétua voltaram a ser proibidas pela Emenda Constitucional 11/1978, uma das medidas de reabertura “lenta, gradual e segura” promovidas pelo governo Ernesto Geisel. Dois meses depois, foi editada a nova Lei de Segurança Nacional (Lei 6.620/1978), que não previa tais sanções. No ano seguinte, entrou em vigor a Lei da Anistia (Lei 6.683/1979), que pavimentou o caminho para a redemocratização do Brasil — embora seja contestada até hoje por não punir torturas e mortes cometidas por militares.
Pizza da comemoração
José Roberto Gonçalves de Rezende foi condenado a uma segunda prisão perpétua, assim como seu companheiro de militância na VPR Alex Polari de Alverga. A defesa dos opositores da ditadura foi conduzida por Lino Machado. Nélio Machado, filho de Lino, começou a carreira de advogado trabalhando com o pai nesses casos difíceis. O escritório atuava de forma pro bono em tais processos.
Lúcia Maurício Alverga, mulher de Alex, também foi denunciada. Em certa audiência, contou Nélio Machado à ConJur, os dois estavam de mãos dadas, e Alex estava falando sem parar com Lúcia. O juiz auditor disse para Lino Machado mandar seu cliente se calar. Quando foi fazer isso, Alex Alverga respondeu: “Pergunta para o cara como eu vou cumprir a minha segunda prisão perpétua. Se ele souber responder, tudo bem, eu me calo. Se não, vou aproveitar o meu tempo ao lado de Lúcia”.
Lino e Nélio Machado contestaram as penas de prisão perpétua de Rezende e Alverga junto ao Supremo Tribunal Federal. No meio tempo, entrou em vigor a nova Lei de Segurança Nacional (Lei 6.620/1978). A norma alterou a pena mínima para sequestro com resultado morte para 8 anos de reclusão. Os advogados pediram a desistência dos recursos acreditando que, na execução, a pena seria adequada à nova regra.
Mesmo assim, o STF concluiu o julgamento, relatado pelo ministro Xavier de Albuquerque, unificando as penas e fixando em 8 anos a penalidade dos dois militantes, com base no princípio de que a lei penal pode excepcionalmente retroagir para beneficiar o réu (Recurso Criminal 1.387-5).
José Roberto Gonçalves de Rezende e Alex Polari de Alverga ficaram encarcerados até o fim de 1979. Nélio Machado visitava-os na penitenciária e aproximou-se deles, até por ter a mesma faixa de idade — anos mais tarde, Rezende foi advogado correspondente do escritório dos Machado em Brasília. Já Alverga tornou-se poeta e estudioso de rituais com o chá de Santo Daime.
O processo para Rezende sair da cadeia foi enrolado e angustiante para ele. Em seu livro de memórias, ele conta que, mesmo após obter liberdade condicional dos dois meses que faltavam cumprir de sua pena, o juiz o mandou de volta para a prisão Frei Caneca, no Centro do Rio, por questões burocráticas. Mas Nélio Machado resolveu o problema.
“O meu advogado, Nélio Machado, e o meu pai estavam tensos, e eu batendo o pé. O Nélio, advogado novo mas experiente, arrumou um jeito de resolver a situação: telefonou para o Augusto Thompson, diretor do presídio Frei Caneca, que tinha uma boa relação com os presos, e ele sugeriu que nós fossêmos — o advogado, meu pai e ele — para o gabinete dele, em vez de voltar para a cadeia. Lá aguardaríamos o trâmite dos papéis. Quando chegamos, dispensou a escolta e mandou a gente passear. Com alguma formalidade, fez meu pai assumir o compromisso de me ‘guardar’ nesses dias e sugeriu: ‘No Amarelinho [bar na Cinelândia, Centro do Rio], aqui ao lado, tem uma ótima pizza. Por que vocês não vão lá experimentar?’. Do lado de fora do gabinete de Augusto Thompson havia umas 20 pessoas esperando a minha saída, foi uma festa. Mário Lago Filho, Hugo Carvana, Prancha, Abigail, Elaine, um monte de amigos… Era o dia 7 de dezembro de 1979, o dia que comi minha primeira pizza fora da cadeia, a pizza da liberdade, depois de oito anos e sete meses de prisão”.
Comoção internacional
Quatro opositores do regime foram condenados à pena de morte durante a ditadura militar, em dois processos. O primeiro foi Theodomiro Romeiro dos Santos. Militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), ele foi preso em 27 de outubro de 1970 em Salvador, junto com Paulo Pontes da Silva. Ao ser algemado a Silva por uma das mãos, Santos sacou um revólver e atirou nos agentes, matando o sargento da Aeronáutica Waldo Xavier de Lima.
Em 18 de março de 1971, o Conselho Especial de Justiça da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (BA) condenou Theodomiro Romeiro dos Santos à morte, e Paulo Pontes da Silva, à prisão perpétua, pela prática do crime de exercer violência, por motivo de facciosismo ou inconformismo político-social, contra quem exerça autoridade, com resultado morte, previsto no artigo 33, parágrafo 2º, da Lei de Segurança Nacional.
Os julgadores lamentaram que os acusados tentassem implementar o comunismo no Brasil, sendo que “o brasileiro crê em Deus, é cristão idealista e sonhador, amigo da liberdade, que se insurge contra ideologias que suprimem a mesma”.
O Conselho Especial de Justiça reforçou que estava apenas aplicando a lei. “À Revolução, ao Estado, às Forças Armadas e à Justiça Militar da União, não interessa apenas que haja uma sanção, mas acima de tudo, que essa imposição de pena recaia sobre aquele que praticou infração o que, ante a verdade material dos autos, seja produto de um convencimento extremo de qualquer dúvida”.
A condenação de Theodomiro Romeiro dos Santos teve grande repercussão no Brasil e no exterior. Instituições da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), pediram a abolição da penalidade. Único partido de oposição permitido pela ditadura, o MDB apresentou projeto de lei em novembro de 1971 que extinguia a sanção capital.
A pena de Santos foi convertida em perpétua pelo STM, em 14 de junho de 1971 (Apelação 38.590). O relator do caso, ministro civil Amarílio Lopes Salgado, afirmou que a substituição se justificava pelo fato de o militante ter 18 anos à época do ocorrido — não sendo um “homem feito” — e não ter antecedentes criminais. A corte também absolveu Silva por entender que não ficou provado que ele atuou na morte do militar.
Mesmo votando pela comutação da pena de morte, Salgado não deixou de criticar a defesa do comunismo por Theodomiro Romeiro dos Santos, alegando que ele não teria direito a um processo justo se cometesse o mesmo ato na União Soviética ou em Cuba.
“Pena é que tenhamos à frente de nós um jovem, desses desgarrados, desses desviados, lamentavelmente adepto da ‘foice e do martelo’. Esqueceu-se Theodomiro Romeiro dos Santos de que estamos no Brasil, que aqui há só uma e grande família; esqueceu-se Theodomiro dos Santos — ‘que de santo só tem o nome’ — que aqui há Justiça; quis ele, talvez, ter conhecimento, mas truncado, do que vai em certos países que exploram o terrorismo, política essa que não interessa aos brasileiros; aí estão as nossas Forças Armadas — altamente credenciadas — para o combate dessas doutrinas extravagantes”, opinou Salgado.
O STF reduziu a pena de Santos para 30 anos de reclusão em 7 de março de 1975 (Recurso Criminal 1.232). O relator, ministro Bilac Pinto, citou o artigo 51 da Lei de Segurança Nacional, que previa o seguinte: “Quando ao crime for cominada pena de prisão perpétua, poderá o Conselho ou Tribunal substituí-la pela de reclusão por 30 anos”. E mencionou que o Supremo já havia aplicado esse dispositivo no caso do militante da VPR Diógenes Sobrosa de Souza (veja abaixo).
Ao saber que não estava incluído entre os beneficiados pela Lei de Anistia, Theodomiro Romeiro dos Santos fugiu da prisão, dez dias antes da edição da norma, em 1979. O militante decidiu escapar da Penitenciária Lemos Brito, em Salvador, pois, jurado de morte por militares, temia ser morto ao passar a ser único preso político da unidade.
Santos conseguiu asilo na Nunciatura Apostólica (Embaixada do Vaticano em Brasília). Na sequência, exilou-se no México e na França. Com o fim da ditadura e a extinção de sua pena, ele retornou ao Brasil em 1985, tornando-se juiz do Trabalho em Pernambuco. Theodomiro Romeiro dos Santos morreu em 2023, aos 71 anos.
Militantes da VPR
Os outros três condenados à morte na ditadura foram os militantes da VPR Ariston de Oliveira Lucena, Diógenes Sobrosa de Souza e Gilberto Faria Lima. Eles foram sentenciados à penalidade capital pelo Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar (SP) em 29 de novembro de 1971. O líder do grupo, Carlos Lamarca, também foi denunciado, mas teve sua punibilidade extinta por estar morto à época do julgamento — ele tinha sido assassinado três meses antes por agentes do regime no interior da Bahia.
Sob o comando de Lamarca, a VPR instalou uma área de treinamento de guerrilhas na região de Jacupiranga, próxima a Registro, no Vale da Ribeira, em São Paulo. Um delator entregou a localização aos militares. Por muito tempo, a revelação foi atribuída a Celso Lungaretti. Preso, ele foi torturado até escrever uma carta “abdicando da subversão” e se retratar em rede nacional.
Na realidade, Lungaretti entregou uma área de treinamento de guerrilha da VPR que estava desativada — não tendo, portanto, maiores implicações nas investigações militares contra o movimento. Porém, devido à falsa acusação, ele ficou de fora da lista de militantes que entraram na troca pelo embaixador da Alemanha, Ehrenfried von Holleben. Graças à ação, 40 presos políticos foram libertados pela ditadura e enviados para a Argélia.
A verdade em relação à suposta traição de Celso Lungaretti à VPR veio à tona somente no final de 2004, 34 anos após sua prisão e interrogatório, depois de obter acesso a documentos secretos do II Exército que lhe permitiram reconstruir a cronologia dos eventos, inocentando-o da pecha de delator. Lungaretti descobriu quem havia delatado a localização do campo ativo de treinamento de guerrilheiros. Entretanto, preferiu manter-se em silêncio e não revelou a identidade do delator.
Com a informação sobre a área no Vale do Ribeira, tropas do Exército e da Polícia Militar de São Paulo foram deslocadas para lá. Em 8 de maio de 1971, sete militantes da VPR foram abordados por policiais em um posto de gasolina em Eldorado Paulista. Eles dispararam contra os agentes e fugiram para Sete Barras.
Comandante do pelotão, o tenente Alberto Mendes Júnior organizou uma patrulha para encontrar os opositores da ditadura, o que ocorreu em Eldorado Paulista. Houve troca de tiros, e diversos policiais ficaram gravemente feridos. Mendes pediu trégua, deixando agentes com os militantes e levando os baleados para o hospital. Mais tarde, foi surpreendido por tiros e rendido por cinco integrantes da VPR — Carlos Lamarca, Yoshitame Fugimore, Diógenes Sobrosa de Souza, Ariston Oliveira Lucena e Gilberto Faria Lima. O grupo fugiu pela floresta, levando o tenente.
Os militantes formaram um tribunal revolucionário para julgar Mendes, composto por Lamarca, Fugimore e Souza. Eles condenaram o PM pelos crimes cometidos em nome da ditadura. Em seguida, os dois primeiros o mataram com golpes na cabeça, com a coronha de um fuzil. Em setembro, Lamarca revelou a execução em um manifesto ao povo brasileiro. Fugimore foi assassinado por agentes da ditadura em dezembro de 1970, em São Paulo, e não foi denunciado por isso.
O Conselho Especial de Justiça da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar condenou Diógenes Sobrosa de Souza, Ariston Oliveira Lucena e Gilberto Faria Lima à pena de morte pela prática do crime de atentado pessoal ou terrorismo, com resultado morte, previsto no artigo 28, parágrafo único, da Lei de Segurança Nacional.
Os julgadores afirmaram que “a pena de morte, em determinadas circunstâncias, não é injusta” e citaram o filósofo francês Gaston Sortais. Segundo o pensador, a principal função da punição capital é “restabelecer o equilíbrio moral que o criminoso perturbou por seu crime”.
“Ora, o homicídio é o crime que se opõe mais diretamente aos fins da sociedade; esta é feita para proteger e aperfeiçoar a vida humana; o homicídio a destrói. A esse crime sem igual, compete dar um castigo à parte; tendo a ordem essencial recebido aqui o mais grave atentado, deve a pena ser levada a seu máximo de rigor”, afirma Sortais, no trecho citado na sentença.
O STM, em 30 de junho de 1972, aceitou apelações das defesas e condenou Diógenes Sobrosa de Souza (representado no recurso por Nilo Batista), Ariston Oliveira Lucena e Gilberto Faria Lima à prisão perpétua (Apelação 39.100). O acórdão, relatado pelo ministro civil Amarílio Lopes Salgado, não fundamenta precisamente a redução da gravidade da pena. O magistrado deixou claro que, por mais que Lamarca fosse o líder do grupo, todos os acusados tinham responsabilidade pela morte de Mendes. Ainda assim, entendeu que a sanção aplicada aos três deveria ser a mínima prevista para o crime de atentado pessoal ou terrorismo, com resultado morte, e não a máxima.
Em julgamento de embargos em 9 de agosto de 1973, o STM substituiu a pena de Ariston Oliveira Lucena para 30 anos de prisão. O relator do caso, ministro civil Alcides Vieira Carneiro, apontou que Lucena não tinha participado da decisão de matar o tenente nem de sua execução, apenas tinha enterrado o corpo dele.
O caso de Diógenes Sobrosa de Souza teve destino semelhante, conferido pelo Supremo em 6 de setembro de 1974 (Recurso Ordinário Criminal 1.211). O ministro Aliomar Baleeiro, relator do processo, destacou que não tinha ficado devidamente provado que Souza teve responsabilidade pela morte de Mendes ou se, quando o golpeou, ele já estava morto. O magistrado também ressaltou que Lamarca era o líder do grupo e convidou seus colegas a se colocarem na pele dos militantes da VPR.
“A meu ver a situação não deve ser medida psicologicamente pela frieza mental de velhos juízes, tranquilamente sentados numa sala calma e silenciosa a 1.000 km e a 3 anos dos fatos, mas tal como ela se apresentou ao espírito conturbado dos protagonistas do drama, armas em punho, nas trevas, e no perigo da vida, segundo suas concepções pessoais de hierarquia de tropa irregular e das regras de lealdade entre combatentes de um e doutro lado. Creio que Lamarca, segundo a legenda da época, não era um disciplinador maleável nem se preocuparia de organizar um Conselho de Guerra para condenar e mandar executar um inimigo que faltara à palavra e o fizera perder dois homens na emboscada. Agiu de plano e por autoridade própria”, disse Baleeiro.
Diógenes Sobrosa de Souza e Ariston Oliveira Lucena não tiveram suas penas perdoadas devido ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei da Anistia, que tem a seguinte redação: “Excetuam-se dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”. Contudo, os dois obtiveram liberdade condicional em 1979.
Gilberto Faria Lima, conhecido como “Zorro”, deixou o Brasil em 1971 e foi condenado à revelia. Sua punibilidade foi declarada extinta devido à Lei da Anistia em 13 de setembro de 1979, pela 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar. A família disse que recebeu notícias dele pela última vez em 1974.
Documentos produzidos por órgãos de informação das Forças Armadas e pelo Dops paulista levantam a suspeita de que Faria Lima era colaborador das forças de repressão, segundo reportagem do portal IG. Ele teria passado a cooperar com agentes da ditadura após ser preso em 1970. Os arquivos mencionam que Faria Lima forneceu informações sobre militantes brasileiros exilados no Chile e na Argentina.
Vida de luta
Solto, José Roberto Gonçalves de Rezende voltou para Belo Horizonte. Lá, ele montou uma oficina e fez serigrafias até conseguir um emprego no fórum, pelo qual recebia três salários-mínimos por mês.
Incentivado pelo professor Milton Fernandes, retomou o curso de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Em uma reunião do movimento estudantil na Faculdade de Medicina da UFMG em 1981, conheceu Beatriz Vargas Ramos, também estudante de Direito, “uma figura agitadíssima, elétrica, que fazia discursos retumbantes”, conforme conta em seu livro de memórias.
Na saída da reunião, o grupo foi para uma lanchonete, e Rezende conversou com Beatriz, 19 anos mais nova do que ele. Ali nasceu uma amizade que virou namoro e casamento. Eles tiveram dois filhos e ficaram juntos até a morte de Rezende, em 2001.
Depois de formados, os dois tiveram um escritório de advocacia voltado para a defesa dos direitos humanos. Eles representavam moradores de rua, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Atualmente, Beatriz é professora de Direito Penal da Universidade de Brasília (UnB).
Rezende candidatou-se a vereador de Belo Horizonte pelo PT e foi assessor de deputados estaduais do partido. Foi o primeiro ouvidor de Polícia de Minas Gerais, indicado pelo governador Eduardo Azeredo e reconduzido por Itamar Franco.
“Itamar tinha conhecido Rezende em uma visita à prisão. Quando soube que o Zé Roberto era o preso político que tinha conhecido, passou a convidá-lo para as reuniões de secretariado, mesmo o ouvidor não sendo um cargo de governo. Ele tinha um grande respeito pela trajetória do Zé Roberto”, disse Beatriz à ConJur.
Ela não perguntava muito para seu marido de seu tempo na prisão e dos processos aos quais respondeu, pois sabia que isso desencadeava lembranças ruins. Mas o ouviu narrar sua história para o jornalista Mouzar Benedito, nos depoimentos que deram origem ao livro Ousar lutar: memórias da guerrilha que vivi. Beatriz destaca que Rezende e Alex Polari de Alverga viram e ouviram Stuart Angel Jones ser torturado e morto na Base Aérea do Galeão, no Rio. A mãe dele, Zuzu Angel, então iniciou uma campanha no Brasil e no exterior para descobrir o paradeiro do filho. Ela morreu em um acidente de carro causado por agentes da ditadura, como posteriormente declarado pela Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos.
“Ele teve vivências pesadas. Tinha memórias dolorosas, perdeu companheiros. Era sensível, carregava muita dor. Mas lidou de forma muito equilibrada, não ficou doente por isso. O Zé Roberto era muito bem-humorado, interessado nos outros, fazia amizades facilmente. Um sujeito corajoso, que gostava de viver”, recorda Beatriz.
Apesar de ser uma sanção prevista por nove dos 21 anos da ditadura militar, a pena de morte não chegou a ser executada formalmente. Nem precisava: ela era colocada em prática informalmente, sem processo nem julgamento, por agentes da repressão, apontam Nilo Batista e Beatriz Vargas Ramos. A punição capital foi aplicada 434 vezes durante o regime, segundo o relatório final da Comissão Nacional da Verdade.