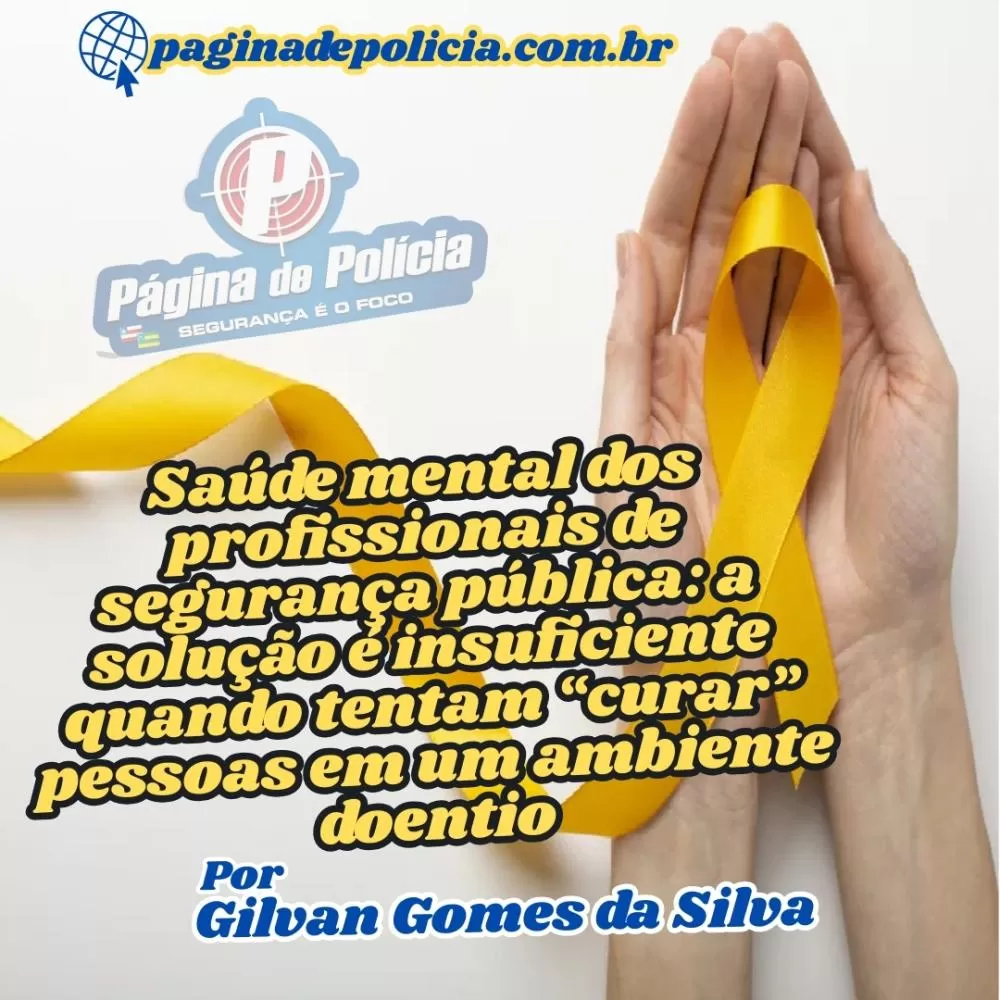No último 21 de maio de 2024 assistimos, em rede nacional, a integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo agredindo estudantes secundaristas que protestavam na ALESP contra a aprovação do projeto de Lei que regulamenta as escolas cívico-militares no estado[1]. Poucos minutos depois da atuação violenta, com direito a cassetete e gás de pimenta lançados sobre adolescentes entre 15 e 17 anos, os deputados estaduais aprovavam o projeto enviado à Assembleia Legislativa pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos)[2].
O tema das escolas cívico-militares não é novo no Brasil. Há pelo menos 20 anos, estados como Goiás, Amazonas, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e Ceará, entre tantos outros, avançam na “militarização” das escolas públicas. Entretanto, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o debate ganhou repercussão nacional com a criação da Secretaria Nacional de Escolas Cívico-Militares, no âmbito do Ministério da Educação, com linhas de financiamento e estratégias de implementação em estados e municípios que aderissem à proposta[3].
Com a chegada de Lula (PT) à Presidência, em 2023, a secretaria foi extinta e o governo federal publicou o Decreto nº 11.611/2023, de 21 de julho de 2023, descontinuando o Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares. No entanto, como sabemos, não se desconstrói uma ideologia por decreto. A reação de muitos governadores[4] foi imediata. Rapidamente, passaram a afirmar que iriam continuar implementando o “modelo cívico-militar” a despeito da nova orientação do MEC[5]. Aqui cabe importante ressalva, visto que as escolas cívico-militares não estão presentes somente em estados liderados por partidos de direita e extrema-direita. Em todo o espectro político há justificativas para implementação de propostas dessa natureza.
Mas o que seriam as escolas cívico-militares, comumente chamadas de “escolas militarizadas”?
É bom começar explicando o que elas não são. As escolas cívico-militares não são os Colégios Militares, tal como conhecemos. Esses últimos estão vinculados às Forças Armadas ou às Polícias e Bombeiros Militares. Possuem sistemas próprios de ensino, com a finalidade primeira de atender ao seu público interno (dependentes de militares), depois ao público em geral, mediante processo seletivo. Os Colégios Militares possuem regramento próprio, apesar de dialogarem com as legislações que normatizam a oferta de educação no Brasil. São escolas com financiamento público, uma vez que contam com recursos de suas instituições estatais fundadoras, mas não são escolas públicas “para todos”. Eis um ponto importante para nossa reflexão.
A educação básica pública no Brasil, por sua vez, é um direito social destinado a todos e garantido na Constituição Federal em um conjunto de artigos (6º, 205, 206 e 208) que preconizam, entre outros aspectos, a “igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola”, a “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, assim como garante o “pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas”. Hoje temos quase 40 milhões de estudantes no sistema público brasileiro (INEP, 2022). Os números são gigantescos e correspondem à complexidade e aos desafios de um país continental como o Brasil.
É essa escola pública, gratuita, laica e universal que está em disputa e agora com os contornos supostamente disciplinadores apregoados pelo “modelo cívico-militar” como a solução mágica para os estruturais problemas da educação brasileira. Uma solução externa ao mundo educacional, construída nos gabinetes de governadores e prefeitos, assessorados por atores das Secretarias Estaduais e Municipais de Segurança Pública sem, todavia, os protagonistas das escolas, isto é: estudantes, professores e gestores educacionais.
Os estudos (Castro, 2016; Santos, 2019; Caruso & Paz, 2022; Dutra, 2023) apontam que as chamadas escolas “militarizadas” reúnem um conjunto diverso de experiências de participação de profissionais da segurança pública e defesa, nomeadamente militares do exército, bombeiros militares, policiais militares e mais recentemente outras categorias profissionais, como guardas municipais e policiais rodoviários federais.
Em linhas gerais, a “militarização das escolas” se concentra na ideia de cindir duas dimensões intrínsecas ao processo educacional: o disciplinar e o pedagógico. Os adeptos do modelo defendem que as escolas vivem uma grave crise de autoridade do professor, o que resulta num conjunto de desordens e violências. Os números alarmantes de casos de violências nas escolas, nos últimos anos, ajudam a reforçar tal argumento[6], tornando-se terreno fértil para difusão de uma espécie de pânico que alimenta o perigoso discurso da eterna “crise da educação” gerando o seguinte efeito: abdica-se de construir – no âmbito das políticas educacionais – os caminhos necessários para o enfrentamento da questão para atribuir à segurança pública o “dever moral” de resolver o “problema da escola pública” brasileira.
Tal perspectiva reforça o entendimento de que a solução para os problemas da escola só se alcança com a chamada “ordem e disciplina” nos moldes militares (Kant de Lima, 2019), em que a moral punitivista é tão somente a regra e não há espaço para formação de atores sociais críticos. Nesse sentido, o que se quer são bons cumpridores de ordens inquestionáveis.
É como se no mundo civil não fosse possível experienciar a disciplina como um valor e uma prática a ser construída pelos sujeitos no ato de suas interações sociais cotidianas. Assim, a lógica bipartida apresentada sugere que os militares (estaduais e distritais, inclusive) seriam os responsáveis pelo braço disciplinar impondo a ordem e a harmonia no caos escolar, cabendo aos professores apenas cuidar do pedagógico. Todavia, qualquer pessoa minimamente experimentada na vida escolar, seja como professor, gestor, pesquisador e, sobretudo, estudante sabe que essas dimensões não estão desassociadas.
O ambiente educacional reflete as escolhas didático-pedagógicas adotadas que só conseguem ser implementadas no processo de ensino e aprendizagem, a partir da construção coletiva dos acordos de convivência que precisam ser cotidianamente reiterados e pactuados.
Afinal, na base da ordem social estão os conflitos que nos fazem lembrar diuturnamente que viver em sociedade implica justamente ter que lidar com muitos dissensos, ao mesmo tempo em que conseguimos produzir consensos sociais mínimos. Essa é a beleza e o desafio da vida. Logo, a escola como um microcosmo social não está alheia a isso. Significa dizer que não é viável e sustentável socialmente pensá-la como um corpo estático sem vida e vontade próprias, em que basta submetê-la a uma ordem externa capaz de colocar no lugar ou tirar dele aqueles corpos indesejáveis que não se “enquadram”, “não se submetem” ou “não se adaptam” aos padrões militares estabelecidos. Parafraseando uma expressão que ficou famosa no filme Tropa de Elite, a escola não é um quartel em que o soldado que não se adapta “pede para sair”. A escola pública, pelo contrário, deve ser para todos e insistir na permanência dos estudantes com seus variados marcadores sociais da diferença é tão somente o exercício da garantia de direitos de cidadania.
Os estudos em contextos educacionais (Abramoway, 2002; 2006; Charlot, 2006; Pais, 2008) apontam que a qualidade da vida escolar pode ser medida por diferentes aspectos como, por exemplo: o nível de acolhimento aos estudantes que se constrói, justamente, nas interações escolares cotidianas pautadas na valorização da diversidade; o grau de participação de professores e estudantes nos processos decisórios da escola; a infraestrutura disponível; a valorização e o incentivo aos professores, a capacidade de exercer escuta ativa das famílias e suas demandas; o espaço de reconhecimento e valorização do protagonismo juvenil, a relação que a escola estabelece com seu entorno comunitário.
Todavia, essas não são as variáveis centrais que estão no conjunto de preocupações dos projetos de militarização das escolas Brasil afora. A tônica tem sido implementar em escolas localizadas em territórios periféricos com o argumento de que estão em contextos de alta incidência criminal e que possuem indicadores educacionais baixos. Essa relação causal não necessariamente se sustenta em evidências empíricas, como pudemos demonstrar em estudos feitos no Distrito Federal e que encontram ressonância em outras realidades do país. (Silva et al, 2022; Caruso & Paz, 2022)
A face mais visível, até então, dessas experiências tem sido aquela que dá ênfase a formação em ordem unida, assim como a adoção de punições inspiradas em regulamentos disciplinares militares. Não temos acesso a relatórios institucionais e diagnósticos oficiais sobre a implementação e o acompanhamento dessa experiência, que já pode ser considerada de larga escala, visto que essa tem sido a realidade em mais de 800 escolas que foram militarizadas nos quatro cantos do país, até o momento[7].
Importa, entretanto, cobrar das autoridades da segurança pública transparência e controle sobre a ação policial em ambiente escolar, visto que reiterados casos de violências físicas, assédios moral e sexual são relatados sem que haja clareza, por parte de pais, professores e estudantes a respeito de quais são os canais institucionais disponíveis para acolher denúncias e reclamações. Iniciativas como a criação do Observatório da Militarização por parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF[8] pode ser uma resposta para essa grave lacuna.
Portanto, falar da “militarização das escolas” no Brasil é tratar de uma agenda fundamental para o debate educacional e político contemporâneo. Todos nós precisamos nos inteirar dos rumos que estão sendo adotados e nos questionar sobre como têm sido implementadas essas experiências que atropelam os processos de gestão democrática das escolas e lançam mão do medo para convencer mães e pais de que é o único caminho possível para a educação pública e de qualidade, quando por vezes, os mesmos profissionais não conseguem garantir a melhoria dos índices de violência e criminalidade no entorno das escolas em que atuam.[9]
A cena que vimos na ALESP escancara o projeto de securitização da vida estudantil que foi silenciada com golpes de cassetete e spray de pimenta em sua manifestação legítima no espaço apropriado para o debate republicano e democrático sobre os rumos da educação.
Nesse projeto de poder não há espaço para se levar a sério os anseios dos estudantes e professores. Pelo contrário, o que ouvimos foi o desespero de uma das manifestantes que gritava insistentemente para os policiais militares: “Eles estão saindo, eles estão saindo…” numa estratégia em vão de se evitar mais uma agressão. Nesse caso, “eles” são justamente os jovens estudantes das escolas públicas que deveriam ser os sujeitos prioritários de qualquer proposta educacional em debate. O que se vê, contudo, é o silenciar reiterado de suas vozes e o alijamento do processo de construção da educação para e com estudantes e professores que dão vida e sentido à escola.
[4] https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2023/12/25/governadores-investem-em-escolas-civico-militares-mesmo-apos-mec-encerrar-programa-federal.ghtml , acessado em 27/05/2024
HAYDÉE CARUSO - Antropóloga. Professora do Departamento de Sociologia da UnB. Pesquisadora do Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos – INCT-INeAC e do Núcleo de Estudos sobre Violência e Segurança – NEVIS/UnB. É Investigadora Colaboradora do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e Associada Sênior do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
fontesegura.forumseguranca.org.br/ | EDIÇÃO N.233